15 de agosto de 2025, 20h43
A expressão “direito administrativo do medo”[1] foi cunhada por Rodrigo Valgas dos Santos, em obra de sua autoria que leva o mesmo título, onde ele a define como o resultado de um controle externo disfuncional exercido sobre a atuação administrativa dos gestores públicos. Tal disfuncionalidade decorre da sobreposição de múltiplas instâncias fiscalizadoras: Tribunais de Contas, controladorias internas, Legislativo, Ministério Público, Judiciário, procuradorias, imprensa e pela própria sociedade, que, embora essenciais ao Estado democrático de Direito, acabam por gerar um cenário de insegurança jurídica e institucional.

Nesse contexto, condutas praticadas de boa-fé e consideradas legítimas por um órgão, podem ser reputadas ilegais por outro, expondo o agente público a múltiplas e onerosas formas de responsabilização. A consequência prática desse ambiente é o chamado “apagão das canetas”: a deliberada inércia decisória do gestor, que, temendo as repercussões administrativas, civis ou penais, prefere não agir, mesmo diante de demandas urgentes e legítimas, em prejuízo do interesse público (Santos, Rodrigo Valgas dos. Direito Administrativo do Medo).
Esse fenômeno, com suas peculiaridades, encontra paralelo direto no que ora denominamos de direito policial do medo. Aqui, a lógica é semelhante, mas aplicada ao exercício da atividade policial, melindrada pela ausência de segurança jurídica nas matérias que lhe são afetas, bem como por um contexto social, não raro, fomentado pela imprensa e que promove uma verdadeira inversão de valores na sociedade, colocando o policial como criminoso e o criminoso como vítima.
Fiscalização da atividade policial
Vale lembrar que a atividade policial é, inequívoca e positivamente, uma das mais fiscalizadas do país, seja internamente, por meio das corregedorias, ou de forma externa, por meio do Ministério Público, Poder Judiciário, Ouvidorias, advogados, imprensa e pela sociedade como um todo. É evidente que, assim como ocorre com os gestores públicos, essa “superfiscalização”, por si só, já seria suficiente para melindrar o policial no exercício de suas funções, ensejando, por vezes, a sua inércia pelo medo de errar e ser punido.
Por obviedade, considerando que as polícias detém o poder de uso legítimo da força em nome do Estado, é natural que sejam realmente bem fiscalizadas, inclusive para que sejam evitados abusos e violações a direitos e garantias fundamentais, como já se viu no Brasil, notadamente nos períodos ditatoriais.
Contudo, não se pode negar que esse cenário acaba despertando no policial o sentimento de que estão todos contra ele, criando, assim, um ambiente hostil e de temor exacerbado, no qual ele, receoso das consequências, evita agir de forma proativa, mesmo diante de situações que exigem respostas imediatas para preservar a sua vida, a de seus colegas de trabalho ou dos cidadãos que ele jurou proteger.
O medo de ser punido, o medo de ser “condenado” pela imprensa ou pelas redes sociais, o medo entorno das interpretações do Poder Judiciário, quase sempre encastelado e distante da realidade das ruas, tudo isso contribui para a inércia policial, resultando, naturalmente, no “apagão das algemas”, ou seja, na redução da prisão (ou neutralização) de criminosos, cada vez mais blindados pelo ordenamento jurídico, pela jurisprudência e por uma parcela da sociedade que enxerga a polícia como sua inimiga.
Apagão das algemas
A análise do direito policial do medo e de sua consequência prática, a paralisia decisória ou apagão das algemas, encontra amparo e ressonância no marco conceitual da segurança cidadã desenvolvido pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos [2]. No relatório de 2009, a Comissão concebe a segurança cidadã como a condição social em que todas as pessoas podem usufruir de seus direitos fundamentais, em um Estado com capacidade institucional suficiente para garanti-los e para responder eficazmente quando violados. Esse ideal, porém, não pode ser dissociado da necessidade de dotar os órgãos encarregados de manter a ordem pública, em especial as forças policiais, de condições adequadas para o pleno exercício de suas atribuições.

A Corte Interamericana reconhece que a atividade policial, legitimamente orientada à proteção da segurança cidadã, é elemento essencial ao bem comum nas sociedades democráticas, cabendo ao Estado não apenas impor limites ao exercício arbitrário da força, mas também prover os meios materiais, jurídicos e institucionais que permitam aos agentes atuar com segurança e eficiência.
Nesse sentido, o direito internacional dos direitos humanos impõe ao Estado obrigações positivas de proteger e assegurar o direito à vida, não apenas por meio de disposições penais eficazes, mas igualmente mediante a adoção de medidas operacionais que previnam riscos reais e imediatos contra indivíduos ou grupos.
O direito policial do medo, ao gerar hesitação ou omissão por parte dos agentes encarregados da segurança pública, enfraquece a própria capacidade estatal de cumprir tais obrigações positivas. O excesso de controles e a insegurança jurídica decorrente desse ambiente, somados à exposição midiática e aos custos psicológicos e financeiros que recaem sobre policiais mesmo em intervenções legítimas, criam um paradoxo: o Estado, ao não oferecer um aparato mínimo de proteção institucional ao policial, acaba por fragilizar a proteção da sociedade como um todo.
Feitas essas considerações e visando ilustrar a tese que ora concebemos, elencamos abaixo alguns exemplos práticos em que é possível verificar a influência do que denominamos de Teoria do Direito Policial do Medo.
Reflexos práticos do direito policial do medo
Uma das maiores polêmicas atuais envolvendo a atividade policial se relaciona com o procedimento de busca pessoal e as hipóteses que legitimam a abordagem em via pública. Se não bastassem todas as dificuldades existentes no universo policial, ainda se verifica uma insegurança jurídica no tratamento dessa matéria, com sensível divergência dentro do Poder Judiciário, inclusive nos tribunais superiores, dificultando, destarte, a decisão do policial que está na linha de frente de combate ao crime.
O STJ, por exemplo, já entendeu que demonstrar medo ao notar a aproximação de uma viatura policial, seguido da conduta de “dispensar” algo na via pública, não caracteriza fundada suspeita para a busca pessoal (HC 173.021/SP). Em outro julgado (HC 158.580/BA), a Corte concluiu que denúncia anônima e a intuição do policial também não servem de justificativa para a abordagem. Já o TJ-PR decidiu que o fato de o agente estar em um “ponto de tráfico de drogas”, por sio só, não caracteriza “fundada suspeita” para busca pessoal (HC 0037291-13.2023.8.16.0000).
Por outro lado, o STF já decidiu que a conduta de se esquivar de viatura policial (fuga) constitui fundada suspeita para a abordagem e busca pessoal (STF, RHC 229.514). Sob outra perspectiva, o STF reformou decisão do STJ em um caso onde um suspeito foi detido após fugir da polícia e ingressar em seu domicílio. A Corte Suprema, divergindo do STJ, entendeu que a fuga e a autorização de uma moradora legitimavam o ingresso da polícia na casa, conferindo licitude à ação que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas (STF, RE 1.492.256).
Em outro caso analisado pelo STJ, a Corte decidiu que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.048.637/PR).
Ocorre que no STF essa decisão foi reformada (RE 1.342.077/SP). Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes pontuou que, ao estabelecer requisitos não previstos na Constituição sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI) e impor a obrigação a todos os órgãos de segurança pública do País, de modo a alcançar todos os cidadãos indistintamente, a 6ª Turma do STJ extrapolou sua competência jurisdicional.
Busca domiciliar em caso de flagrante delito
Ainda de acordo com o relator, as decisões em HC não podem alcançar indiscriminadamente todos os processos envolvendo a necessidade de busca domiciliar em caso de flagrante delito, ainda mais com a determinação de implantação obrigatória de medidas não previstas em lei relativas à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.
Como se pode perceber apenas com alguns exemplos, é tenebroso o cenário de insegurança jurídica enfrentado pelas polícias no Brasil, mesmo diante de uma atividade tão comezinha como a busca pessoal, que nem sequer deveria gerar tantas controvérsias na jurisprudência, afinal, a abordagem policial é instrumento para garantir direitos fundamentais coletivos. [3]
Não obstante, considerando a contundência de algumas decisões dos nossos tribunais no sentido de limitar a ação das polícias, com destaque para a ADPF 635, que dificulta operações policiais em favelas no Rio de Janeiro, é natural que o policial tenha receio de intervir em um cenário aparentemente delituoso, por mais que a sua percepção, seu tirocínio e demais elementos objetivos indiquem a necessidade de uma legítima ação da polícia.
Como consectário lógico desse direito policial do medo, fomentado, em larga medida, pela nova Lei de Abuso de Autoridade — que tem a atividade policial como foco principal de seus tipos penais —, indivíduos suspeitos não são abordados pelas polícias na via pública, veículos carregados de armas e drogas trafegam livremente pelas nossas rodovias, residências se transformam em escudo para criminosos e comunidades inteiras viram quarteis para o crime organizado.
Investigação criminal também tem ‘apagão das algemas’
Também na investigação criminal é notável o “apagão das algemas”, pois não faltam fundamentos para que delegados de polícia deixem de decretar a prisão em flagrante de suspeitos conduzidos capturados até a delegacia de polícia, vislumbrando, por exemplo, uma ilicitude na abordagem policial que deu ensejo à captura. Com receio de decidir de forma contrária à jurisprudência (oscilante, diga-se!) e ter a sua decisão questionada logo na sequência, durante a audiência de custódia (mais um instrumento do Direito Policial do Medo), a autoridade policial tende a decidir pela ilegalidade da prisão, o que resulta na liberdade de um potencial criminoso.
Do mesmo modo, técnicas investigativas não são empregadas pelas polícias judiciárias por receio de serem consideradas ilegais pelos tribunais superiores, mesmo tendo passado pelo crivo inicial do magistrado de primeira instância, como ocorreu com o espelhamento do whatsapp, meio de obtenção de prova que gera divergência sobre a sua legalidade dentro do STJ. [4] Assim, considerando a insegurança jurídica sobre esse e outros temas afetos à investigação, considerando, ainda, o medo de punições administrativas e penais, nossos policiais deixam de utilizar ferramentas valiosas no esclarecimento de crimes, resultando, mais uma vez, no “apagão das algemas”.
Mas é no exercício legal da força, amparado pelo instituto da legítima defesa, que a Teoria do Direito Policial do Medo mais repercute, neutralizando a ação policial diante de criminosos e fazendo com que policiais, infelizmente, sejam punidos pelo receio de agir. O problema é que em tais situações a punição é, não raro, muito severa e, o que é pior, imposta pelo próprio criminoso, que, blindado pelo direito policial do medo, leva consigo a vida de um agente da Lei.
Foi o que quase ocorreu recentemente em São Paulo com cabo Santana, da Polícia Militar, alvejado no pescoço em 7 de julho de 2025 durante abordagem em comunidade paulistana, após perseguir e deter um suspeito de roubo [5]. Esse triste episódio ilustra de forma dramática como a ausência de garantias e respaldo efetivo ao policial pode resultar em riscos aumentados para sua integridade e para a segurança cidadã. Conforme aponta o Relatório da Comissão Interamericana de Direitos humanos, é dever do Estado agir preventivamente sempre que haja conhecimento — ou devesse haver — sobre riscos concretos à vida de seus agentes e dos cidadãos.
Ignorar essa necessidade equivale a romper o vínculo essencial entre governantes e governados, comprometendo a governabilidade democrática, a vigência dos direitos humanos e a própria paz social!
[1] Direito Administrativo do Medo – 3ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. Autor: Rodrigo Valgas dos Santos
[3] Para um estudo mais detalhado: SANNINI, Francisco. Abordagem policial é instrumento para garantir direitos fundamentais coletivos. Disponível aqui.
[4] Sobre o tema: CABETTE, Eduardo. SANNINI, Francisco. Espelhamento do whatsapp é meio lícito de obtenção de prova. Disponível aqui.
[5] Disponível: Vídeo mostra momento em que policial é baleado no pescoço em Paraisópolis – Record.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!
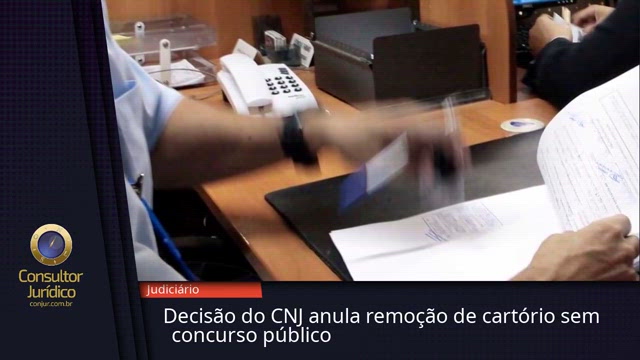




Nenhum comentário:
Postar um comentário